A competitividade da pecuária leiteira moderna exige formulações nutricionais que conciliam alto desempenho produtivo com eficiência econômica. Nesse contexto, os grãos secos de destilaria, conhecidos pela sigla em inglês DDG (Dried Distillers Grains), têm se destacado como uma alternativa estratégica na alimentação de vacas leiteiras em lactação.
Originados como coprodutos da indústria de etanol, especialmente do milho, os DDGs apresentam elevado valor nutricional, além de contribuírem para o reaproveitamento de resíduos industriais, alinhando-se aos princípios de sustentabilidade (Oliveira et al., 2022).
No Brasil, a produção de etanol está historicamente ligada à cana-de-açúcar, mas a crescente utilização do milho como matéria-prima tem ampliado a disponibilidade de DDGs no mercado nacional. Isso é particularmente relevante considerando o cenário internacional, onde mais de 95% do etanol nos Estados Unidos é produzido a partir do milho, resultando em grandes volumes de DDG como subproduto (Ramos et al., 2021). Essa oferta crescente tem impulsionado seu uso na pecuária, principalmente em dietas de ruminantes de alta exigência nutricional, como as vacas em pico de lactação.
Além da questão da oferta, o interesse pelos DDGs também se deve à sua composição rica em proteína não degradável no rúmen (PNDR), além de fibras digestíveis e frações lipídicas que fornecem energia adicional (NRC, 2021).
Por essas características, o DDG tem se consolidado como um ingrediente funcional e versátil, capaz de substituir parcialmente ingredientes tradicionais como o farelo de soja e o milho, com potencial para reduzir custos sem comprometer a performance produtiva (Silva & Santos, 2020).
Ao longo deste artigo, vamos explorar de forma detalhada os aspectos técnicos do DDG, abordando sua composição, formas de uso, vantagens, limitações e recomendações práticas para formulação de dietas para vacas leiteiras.
Sem tempo para ler agora? Baixe este artigo em PDF!
Entendendo o processo industrial de produção do DDG
Os grãos de destilaria são obtidos como coproduto da produção de etanol, processo que envolve a fermentação de açúcares extraídos do milho, geralmente pela ação da levedura Saccharomyces cerevisiae. Como o amido não pode ser fermentado diretamente, ele precisa ser hidrolisado previamente, o que é feito por meio da moagem úmida ou seca.
Na indústria de moagem seca, mais comum na produção de DDG, o grão de milho é transformado em uma massa fermentável composta de amido, fibras, proteínas e óleo (Kalscheur, 2005).
Durante a fermentação, apenas o amido é convertido em etanol; os demais componentes permanecem e compõem os resíduos sólidos que darão origem aos grãos de destilaria. A etapa seguinte envolve a separação dos resíduos sólidos (sólidos grosseiros) e líquidos (vinhaça fina), por meio de centrifugação.
A parte sólida pode ser secada, resultando no DDG (Dried Distillers Grains), ou mantida úmida, formando o WDG (Wet Distillers Grains). Já a fração líquida é evaporada, concentrando os solúveis, que podem ser reincorporados, originando o DDGS (Dried Distillers Grains with Solubles) ou WDGS (Wet Distillers Grains with Solubles) (Liu, 2011).

A composição do produto final pode variar conforme a tecnologia utilizada na fábrica. Processos como o Quick Germ (remoção do gérmen antes da fermentação) e Quick Fiber (remoção da fibra do pericarpo) permitem a obtenção de DDG com alta concentração proteica, podendo alcançar teores superiores a 45% de proteína bruta (Bothast & Schlicher, 2005). Além disso, tecnologias de moagem enzimática permitem a recuperação de frações de maior valor nutricional, aumentando o aproveitamento do milho e melhorando o perfil dos DDGs (Rosentrater & Muthukumarappan, 2006).
Em resumo, os DDGs podem ser classificados em três categorias principais:
- DDG: grãos secos de destilaria, sem adição de solúveis.
- DDGS: grãos secos com solúveis, com maior teor de gordura e umidade.
- WDGS: grãos úmidos com solúveis, com maior teor energético, porém menor estabilidade de armazenamento.
A escolha entre esses tipos deve considerar fatores como logística, estabilidade, composição nutricional e disponibilidade regional, elementos que influenciam diretamente a formulação e o desempenho zootécnico da dieta.
Composição nutricional dos DDG: O que os torna estratégicos?
O valor nutricional dos grãos secos de destilaria (DDG) é uma das principais razões para sua inclusão crescente na dieta de vacas leiteiras em lactação.
A composição dos DDGs varia conforme o tipo de processamento, a inclusão ou não de solúveis, e a remoção de gordura, mas de forma geral, trata-se de um ingrediente com alta concentração de proteína, fibra digestível e energia (NRC, 2021).
Segundo o National Research Council (2021), a composição média do DDG com base na matéria seca (MS) é:

A fração proteica é fortemente influenciada pela presença de células de levedura remanescentes da fermentação, que podem representar de 20% a 50% da proteína bruta presente no DDG (Belyea et al., 2004). Embora a proteína da levedura seja limitada em aminoácidos essenciais — com exceção da lisina —, ela confere ao DDG um perfil único, intermediário entre o milho e os produtos de fermentação microbiana.
A concentração de lisina, um aminoácido essencial para a produção de leite, é variável nos DDGs secos, oscilando entre 1,91% a 3,19% da proteína bruta, sendo geralmente maior nas versões úmidas (Spiehs et al., 2002).
Por outro lado, os DDGs apresentam concentrações elevadas de metionina e leucina, o que é favorável à síntese de proteína láctea (Schingoethe et al., 2009).
Outro ponto estratégico do DDG é sua alta proporção de proteína não degradável no rúmen (PNDR), com digestibilidade da PNDR acima de 80%, tornando-o um ingrediente de grande valor em dietas para vacas em lactação, que demandam proteína metabolizável de alta qualidade (Kalscheur et al., 2006).
Além disso, o DDG apresenta níveis consideráveis de minerais, como:
- Fósforo: cerca de 0,86% na MS
- Cálcio: cerca de 0,05% na MS
Esses teores, especialmente o fósforo, podem contribuir significativamente para o balanceamento mineral da dieta, reduzindo a necessidade de suplementações adicionais (Spiehs et al., 2002).
Em termos energéticos, o DDG tem bom valor calórico, parcialmente devido ao seu teor de gordura, oriundo do óleo de milho presente nos grãos e nos solúveis adicionados (Liu, 2011). No entanto, quando esse teor ultrapassa 10% de extrato etéreo, pode ser necessário restringir sua inclusão para evitar efeitos negativos na digestão da fibra e na composição do leite (Weiss et al., 2009).
Portanto, do ponto de vista nutricional, o DDG é um ingrediente com perfil proteico complementar ao farelo de soja, boa digestibilidade ruminal, e potencial para fornecer energia e minerais, desde que bem equilibrado no contexto da dieta total.
Benefícios do uso de DDG na alimentação de vacas em lactação
A utilização de DDG (Dried Distillers Grains) em dietas de vacas leiteiras oferece uma série de vantagens nutricionais, econômicas e funcionais.
Desde que corretamente balanceado, o DDG pode melhorar a eficiência alimentar, otimizar o fornecimento de proteína metabolizável e reduzir o custo das dietas, especialmente em sistemas que buscam sustentabilidade e alto desempenho produtivo.
Fonte estratégica de proteína e aminoácidos
Um dos principais diferenciais do DDG é seu alto teor de proteína não degradável no rúmen (PNDR), com digestibilidade acima de 80% (Kalscheur et al., 2006). Isso permite maior entrega de aminoácidos diretamente ao intestino delgado, favorecendo a síntese de proteína láctea na glândula mamária, especialmente em vacas de alta produção.
Além disso, o DDG possui teores elevados de metionina e leucina, dois aminoácidos essenciais que são frequentemente limitantes em dietas à base de milho e farelo de soja (Schingoethe et al., 2009).
Complementaridade ao farelo de soja
A composição de aminoácidos do DDG complementa o perfil do farelo de soja, que é rico em lisina, mas mais limitado em metionina. Assim, a inclusão parcial de DDG na dieta, junto ao farelo de soja, permite ajustar o perfil de aminoácidos essenciais de forma mais eficiente e econômica (Paz et al., 2013).
Contribuição energética com menor custo
O DDG também é uma fonte de energia, graças ao seu teor de gordura (extrato etéreo) e à presença de fibras digestíveis.
O tipo WDG (grão úmido de destilaria), por sua vez, apresenta maior valor energético que o DDG, devido à presença residual de etanol e à maior degradabilidade da fibra, uma vez que não passa por secagem térmica (Belyea et al., 2004). No entanto, sua conservação exige atenção especial.
Fornecimento de minerais essenciais
O DDG contém teores significativos de fósforo e cálcio, nutrientes essenciais na dieta de vacas em lactação. Em média, o fósforo corresponde a 0,86% da matéria seca, valor superior ao milho e ao farelo de soja (Spiehs et al., 2002).
Alternativa sustentável na alimentação de ruminantes
Ao utilizar um coproduto da indústria do etanol, a inclusão de DDG na dieta contribui para uma cadeia mais sustentável. O aproveitamento de resíduos industriais como alimento para ruminantes reduz o desperdício e os impactos ambientais, além de valorizar economicamente a produção integrada (Oliveira et al., 2022).
Pontos críticos e cuidados na utilização do DDG
Apesar de seus benefícios, o uso de DDG em dietas para vacas leiteiras exige atenção a limitações nutricionais, sanitárias e metabólicas.
A seguir, destacamos os principais pontos de atenção que devem ser considerados na formulação de dietas que utilizam DDG como ingrediente.
Teor de gordura: risco à gordura do leite
O teor de extrato etéreo no DDG, geralmente acima de 10%, pode interferir negativamente na digestão da fibra no rúmen e no teor de gordura do leite, especialmente devido à presença de ácidos graxos insaturados, como o ácido linoleico (Weiss et al., 2009). Dietas com excesso de gordura podem reduzir a atividade microbiana ruminal, comprometendo a fermentação e a eficiência da digestão da fibra.
Quando se utiliza DDG com altos teores de solúveis, o risco é ainda maior, já que estes concentram o óleo de milho residual. A recomendação técnica é limitar a inclusão de DDG a 10-15% da matéria seca da dieta total, a depender do perfil lipídico do restante da ração (NRC, 2021).
Deficiência de alguns aminoácidos
Embora o DDG seja rico em metionina e leucina, ele é relativamente pobre em lisina e arginina, especialmente quando comparado ao farelo de soja (Schingoethe et al., 2009). Essa limitação pode afetar a síntese proteica na glândula mamária, caso a dieta não seja complementada com fontes específicas desses aminoácidos.
Assim, não se recomenda substituir integralmente o farelo de soja por DDG, mas sim utilizá-los de forma complementar, para atingir um perfil proteico balanceado.
Baixo teor de amido e digestibilidade reduzida
Ao passar pelo processo fermentativo, o amido do milho é convertido em etanol, fazendo com que o DDG contenha níveis residuais de amido. Além disso, esse amido restante tem digestibilidade ruminal reduzida, por já ter sofrido gelatinização e fermentação parcial (Klopfenstein et al., 2008). Isso exige ajustes energéticos na dieta total.
Estratégias práticas para inclusão do DDG na dieta de vacas leiteiras
A adoção do DDG (grãos secos de destilaria) como ingrediente na dieta de vacas em lactação deve ser baseada em critérios técnicos que considerem o equilíbrio da formulação, os objetivos zootécnicos e as particularidades do sistema de produção.
Embora seja um ingrediente funcional e versátil, seu uso deve ser planejado com base em evidências científicas e princípios nutricionais sólidos.
Níveis recomendados de inclusão
Diversos estudos indicam que o DDG pode ser incluído em níveis de até 10% a 15% da matéria seca da dieta total, sem comprometer o desempenho leiteiro (Kalscheur et al., 2006).
Em dietas bem balanceadas, esse nível pode até promover ganhos na produção de leite e sólidos totais, especialmente quando a proteína do DDG complementa adequadamente o perfil de aminoácidos da dieta.
Contudo, a inclusão deve ser ajustada de acordo com o teor de gordura do DDG, considerando os limites máximos de extrato etéreo para dietas de ruminantes (Weiss et al., 2009). Quando o DDG possui mais de 10% de EE, recomenda-se reduzir sua participação na dieta ou utilizar versões com remoção parcial do óleo.
Correção da relação PDR:PNDR
Um dos desafios na formulação de dietas com DDG é manter o equilíbrio entre proteína degradável no rúmen (PDR) e proteína não degradável (PNDR). O DDG é uma fonte predominante de PNDR, sendo fundamental associá-lo a fontes de PDR, como ureia, farelo de soja ou silagens proteicas, para estimular a atividade microbiana ruminal e garantir produção adequada de proteína microbiana (NRC, 2021).
Conclusão
O uso de grãos secos de destilaria (DDG) em dietas de vacas leiteiras representa uma solução eficiente para sistemas de produção que buscam reduzir custos, melhorar o aproveitamento proteico e diversificar as fontes de ingredientes. Com uma composição nutricional robusta, o DDG se consolida como um insumo valioso na formulação de dietas de ruminantes de alta exigência.
Sua utilização, no entanto, deve ser orientada por critérios técnicos, respeitando limites de inclusão, correções na relação PDR:PNDR e adequação ao perfil produtivo do rebanho. O DDG não substitui integralmente ingredientes como o farelo de soja, mas sim os complementa de forma estratégica, proporcionando melhor equilíbrio de aminoácidos e otimização da eficiência alimentar.
É fundamental também que os profissionais envolvidos na formulação estejam atentos às variações na composição do DDG conforme o tipo de processamento industrial, bem como aos teores de extrato etéreo e enxofre, que exigem manejo cauteloso para evitar distúrbios ruminais e metabólicos.
De modo geral, o DDG é uma alternativa sustentável, viável e tecnicamente segura, quando utilizado com conhecimento, planejamento e acompanhamento zootécnico. Sua adoção contribui para uma nutrição mais eficiente, alinhada aos desafios econômicos e ambientais da pecuária leiteira moderna.
Nutrição estratégica para mais produção e rentabilidade
O uso de ingredientes como o DDG pode trazer ganhos importantes na dieta das vacas leiteiras, desde que feito com conhecimento técnico, equilíbrio nutricional e foco em resultados. Para tomar decisões mais assertivas e aumentar a eficiência da produção, é essencial ir além do básico.
A Pós-graduação em Pecuária Leiteira do Rehagro é a oportunidade ideal para quem quer aprofundar seus conhecimentos em nutrição, manejo, gestão e sanidade, com uma abordagem prática e voltada para o dia a dia da fazenda. Com aulas 100% online e professores com forte atuação no campo, o curso prepara você para elevar a produtividade do rebanho com técnica e rentabilidade.
Autoras: Ana Clara Viana e Laryssa Mendonça – Equipe Leite Rehagro
Referências Bibliográficas
- NRC – National Research Council. (2021). Nutrient Requirements of Dairy Cattle: Eighth Revised Edition.
Disponível em: https://doi.org/10.17226/25806 - Kalscheur, K. F. (2005). Impact of feeding distillers grains on milk production, milk composition, and ruminal metabolism. South Dakota State University Dairy Report.
Disponível em: https://openprairie.sdstate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1018&context=dairy_seminar_2005 - Liu, K. (2011). Chemical composition of distillers grains, a review. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 59(5), 1508–1526.
Disponível em: https://doi.org/10.1021/jf103512z - Belyea, R. L., Rausch, K. D., & Clevenger, T. E. (2004). Composition of corn and distillers dried grains with solubles from dry grind ethanol processing. Bioresource Technology, 94(3), 293–298.
Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2004.01.001 - Spiehs, M. J., Whitney, M. H., & Shurson, G. C. (2002). Nutrient database for distiller’s dried grains with solubles produced from new ethanol plants in Minnesota and South Dakota. Journal of Animal Science, 80(10), 2639–2645.
Disponível em: https://doi.org/10.2527/2002.80102639x - Schingoethe, D. J., Kalscheur, K. F., Hippen, A. R., & Garcia, A. D. (2009). The use of distillers products in dairy cattle diets. Journal of Dairy Science, 92(12), 5802–5813.
Disponível em: https://doi.org/10.3168/jds.2009-2549 - Weiss, W. P., Conrad, H. R., & St-Pierre, N. R. (2009). A theoretically-based model for predicting total digestible nutrient values of forages and concentrates. Animal Feed Science and Technology, 23(2), 93–116.
Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.anifeedsci.2009.05.005 - Klopfenstein, T. J., Erickson, G. E., & Bremer, V. R. (2008). Board-invited review: Use of distillers by-products in the beef cattle feeding industry. Journal of Animal Science, 86(5), 1223–1231.
Disponível em: https://doi.org/10.2527/jas.2007-0550 - Drewnoski, M. E., Poore, M. H., & Huntington, G. B. (2014). Feeding high-sulfur diets to ruminants: A review. Journal of Animal Science, 92(9), 3763–3780.
Disponível em: https://doi.org/10.2527/jas.2014-7602 - Oliveira, J. S., Costa, K. A. P., & Ribeiro, K. G. (2022). Utilização de coprodutos da agroindústria na alimentação de bovinos leiteiros: avanços e desafios. Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável, 12(2), 58–72.
Disponível em: https://revistas.ufg.br/rbas/article/view/70579 - Paz, H. A., Anderson, C. L., Kononoff, P. J. (2013). Evaluation of feed ingredient variability and strategies to improve ration consistency and animal performance. Nebraska Beef Report 2013.
Disponível em: https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1913&context=animalscinbcr - Bothast, R. J., & Schlicher, M. A. (2005). Biotechnological processes for conversion of corn into ethanol. Applied Microbiology and Biotechnology, 67(1), 19–25.
Disponível em: https://doi.org/10.1007/s00253-004-1819-8 - Rosentrater, K. A., & Muthukumarappan, K. (2006). Corn ethanol coproducts: Generation, properties, and challenges. Cereal Foods World, 51(4), 168–172.
Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/228629491 - Van Soest, P. J. (1994). Nutritional Ecology of the Ruminant (2nd ed.). Cornell University Press.
Disponível em: https://www.cornellpress.cornell.edu/book/9780801427725/nutritional-ecology-of-the-ruminant/






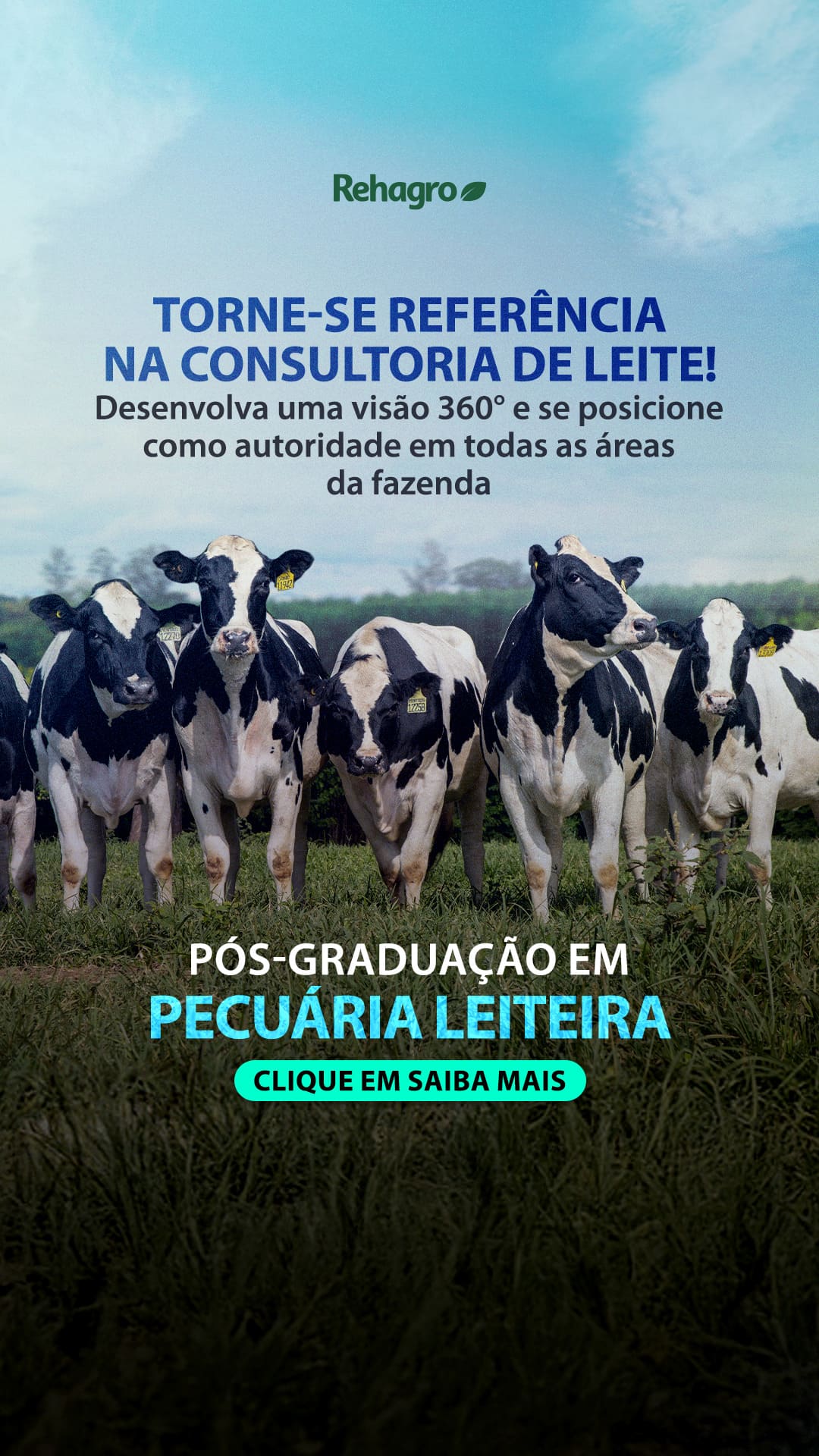










Parabéns pela excelente matéria.
Muito bem explicado e esclarecido.